Rumo ao bi






 Manjam aquela propaganda em que o Dudu é promovido a Carlos Eduardo porque utiliza as redes sociais, novas tecnologias e tudo o mais no trabalho? Pois é, comigo aconteceu o inverno: eu usava frequentemente as redes sociais e a internet e bloquearam os sites do gênero. Continuei sendo só mais um Dudu...
Manjam aquela propaganda em que o Dudu é promovido a Carlos Eduardo porque utiliza as redes sociais, novas tecnologias e tudo o mais no trabalho? Pois é, comigo aconteceu o inverno: eu usava frequentemente as redes sociais e a internet e bloquearam os sites do gênero. Continuei sendo só mais um Dudu... Em Reino e Poder, Gay Talese conta a história do New York Times. Lendo esse livro, percebo como eu não gostaria de trabalhar no NY Times. Pelo menos não até a década de 1970. E, possivelmente, nem depois, pois a linha editorial do jornal é a mesma de seu patriarca Adolph Ochs, ou seja, o NY Times tem que dar o máximo de informações possível, com o mínimo de opinião, análise e participação do jornalista possível. A mesma objetividade perseguida pela grande maioria dos jornais interioranos do Brasil de hoje em dia. Nesse sentido, sou adepto da teoria de um jornalista literário gaúcho que dizia que quem tem linha é trem. Jornalista tem é personalidade e vontade de contar boas e reais histórias.
Em Reino e Poder, Gay Talese conta a história do New York Times. Lendo esse livro, percebo como eu não gostaria de trabalhar no NY Times. Pelo menos não até a década de 1970. E, possivelmente, nem depois, pois a linha editorial do jornal é a mesma de seu patriarca Adolph Ochs, ou seja, o NY Times tem que dar o máximo de informações possível, com o mínimo de opinião, análise e participação do jornalista possível. A mesma objetividade perseguida pela grande maioria dos jornais interioranos do Brasil de hoje em dia. Nesse sentido, sou adepto da teoria de um jornalista literário gaúcho que dizia que quem tem linha é trem. Jornalista tem é personalidade e vontade de contar boas e reais histórias. 
 Tem gente que acha que existe a vida após a morte. Tem gente que acha que não. Tem gente que crê que há vida depois do casamento e também tem gente que não. Nos dois casos, tem gente que acredita que há o paraíso, o purgatório e o inferno. O paraíso seria o relacionamento perfeito, com transas ardentes todos os dias, beijos, carinho, toques, etc. O purgatório seria um momento infernal antes de se chegar ao paraíso: ou seja, você se casa e a sogra vai morar com vocês. Depois que ela parte dessa para outro lugar (ou para a melhor ou para a pior) aí vem o paraíso... E o inferno é a condenação por toda a eternidade. Nos dois casos.
Tem gente que acha que existe a vida após a morte. Tem gente que acha que não. Tem gente que crê que há vida depois do casamento e também tem gente que não. Nos dois casos, tem gente que acredita que há o paraíso, o purgatório e o inferno. O paraíso seria o relacionamento perfeito, com transas ardentes todos os dias, beijos, carinho, toques, etc. O purgatório seria um momento infernal antes de se chegar ao paraíso: ou seja, você se casa e a sogra vai morar com vocês. Depois que ela parte dessa para outro lugar (ou para a melhor ou para a pior) aí vem o paraíso... E o inferno é a condenação por toda a eternidade. Nos dois casos.

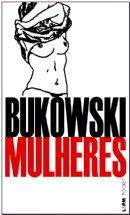 Fuxicando no site da LP&M achei mais um livro do velho Buk. Faz tempo que ando desconfiado desses livros novos do Bukowski, pois, sempre que acho que li todos aparece um novo. O último que li foi “Notas de um caderno manchado de vinho”, que comprei na Feira do Livro de Porto Alegre do ano passado. Sei lá, como o Bukowski se tornou pop e sucesso editorial e, mesmo morto, tem mais livros lançados a cada ano que diversos autores vivos, é de se desconfiar da originalidade desses textos. Mas, como sou uma espécie de Homer Simpson da literatura, acabo não ligando muito para isso e consumindo essas infindáveis obras. Talvez, se eu fosse um Gay Talese e morasse nos Estados Unidos, até me prestaria a investigar isso, no entanto, não ando com disposição, nem energia e muito menos com saco para tal empreitada. Daqui a alguns dias lançam um livro novo com histórias do Bukowski psicografadas por algum espírita sacana, e eu vou consumi-lo e achá-lo o máximo, como outros milhões de leitores pelo mundo afora...
Fuxicando no site da LP&M achei mais um livro do velho Buk. Faz tempo que ando desconfiado desses livros novos do Bukowski, pois, sempre que acho que li todos aparece um novo. O último que li foi “Notas de um caderno manchado de vinho”, que comprei na Feira do Livro de Porto Alegre do ano passado. Sei lá, como o Bukowski se tornou pop e sucesso editorial e, mesmo morto, tem mais livros lançados a cada ano que diversos autores vivos, é de se desconfiar da originalidade desses textos. Mas, como sou uma espécie de Homer Simpson da literatura, acabo não ligando muito para isso e consumindo essas infindáveis obras. Talvez, se eu fosse um Gay Talese e morasse nos Estados Unidos, até me prestaria a investigar isso, no entanto, não ando com disposição, nem energia e muito menos com saco para tal empreitada. Daqui a alguns dias lançam um livro novo com histórias do Bukowski psicografadas por algum espírita sacana, e eu vou consumi-lo e achá-lo o máximo, como outros milhões de leitores pelo mundo afora...




 E, frente a alguns acontecimentos recentes no cenário nacional, vejo nas conversas nas ruas e nos debates em geral, um conservadorismo na população santo-angelense e ijuiense dignos de Antares. O primeiro tema é a legalização da união homossexual e a autorização para que casais homossexuais adotem crianças. De uma forma geral, muita gente julga que quem é a favor da autorização da união estável é homossexual. Um pensamento tipicamente antaresco. Porém, o tema mais polêmico diz respeito a adoção de crianças por casais do mesmo sexo. Ouvi muita bobagem de gente que raramente já saiu da região, que não conhece a realidade de outras cidades, e que acha um absurdo a adoção de crianças por casais homossexuais. Entretanto, para essas pessoas eu só dou uma sugestão: visitem as entidades assistenciais de Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo, e outras metrópoles, ou passeie nas ruas dessas cidades de madrugada e veja crianças implorando por uma família, qualquer família, que só lhe dê comida e uma cama para dormir e um pouco de educação e atenção. Como você vai querer proibir qualquer tipo de adoção em um país miserável onde crianças são amontoadas em lares ou ficam zanzando na rua fumando crack? Quem é contra a adoção de crianças por casais homossexuais certamente não tem noção do que é essa realidade. Passem pela Avenida Ipiranga, em Porto Alegre, por volta das 20h e vejam adultos e crianças dormindo amontoados nas calçadas, entrando na fila do sopão comunitário para não morrer de fome e pedindo esmola no sinal, ou mesmo assaltando e matando para roubar e ter dinheiro para comprar crack e, depois que fizerem isso e que conversarem com algumas dessas pessoas, voltem para conversar debater o assunto comigo...
E, frente a alguns acontecimentos recentes no cenário nacional, vejo nas conversas nas ruas e nos debates em geral, um conservadorismo na população santo-angelense e ijuiense dignos de Antares. O primeiro tema é a legalização da união homossexual e a autorização para que casais homossexuais adotem crianças. De uma forma geral, muita gente julga que quem é a favor da autorização da união estável é homossexual. Um pensamento tipicamente antaresco. Porém, o tema mais polêmico diz respeito a adoção de crianças por casais do mesmo sexo. Ouvi muita bobagem de gente que raramente já saiu da região, que não conhece a realidade de outras cidades, e que acha um absurdo a adoção de crianças por casais homossexuais. Entretanto, para essas pessoas eu só dou uma sugestão: visitem as entidades assistenciais de Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo, e outras metrópoles, ou passeie nas ruas dessas cidades de madrugada e veja crianças implorando por uma família, qualquer família, que só lhe dê comida e uma cama para dormir e um pouco de educação e atenção. Como você vai querer proibir qualquer tipo de adoção em um país miserável onde crianças são amontoadas em lares ou ficam zanzando na rua fumando crack? Quem é contra a adoção de crianças por casais homossexuais certamente não tem noção do que é essa realidade. Passem pela Avenida Ipiranga, em Porto Alegre, por volta das 20h e vejam adultos e crianças dormindo amontoados nas calçadas, entrando na fila do sopão comunitário para não morrer de fome e pedindo esmola no sinal, ou mesmo assaltando e matando para roubar e ter dinheiro para comprar crack e, depois que fizerem isso e que conversarem com algumas dessas pessoas, voltem para conversar debater o assunto comigo... O outro tema polêmico, em que as comunidades antarescas parecem ter problema cognitivo de entender a situação, é a legalização da marcha da maconha pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Fazendo uma matéria sobre isso, em Ijuí, encontrei inúmeras pessoas, formadas em psicologia, filosofia e outras áreas que aprovaram a decisão do STF, mas que não quiseram emitir opinião para a matéria com medo de serem taxadas de maconheiras pela sociedade. O fato é que a decisão do STF não autoriza o uso da maconha, mas sim, o direito da mobilização social sobre o tema. Aliás, como uma entidade vai proibir um protesto? Protestos não dependem de autorização judicial ou legal, pois, protestos exigem mudanças na legislação em vigor. Foi assim na Revolução Francesa. Foi assim na Guerra Civil norte-americana. Foi assim nas Diretas Já. A única coisa que o STF fez foi manter o protesto como pacífico, pois, certamente, se fosse proibido pelo órgão máximo da Justiça brasileira, haveria quebra-pau, tiros, mortos e feridos.
O outro tema polêmico, em que as comunidades antarescas parecem ter problema cognitivo de entender a situação, é a legalização da marcha da maconha pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Fazendo uma matéria sobre isso, em Ijuí, encontrei inúmeras pessoas, formadas em psicologia, filosofia e outras áreas que aprovaram a decisão do STF, mas que não quiseram emitir opinião para a matéria com medo de serem taxadas de maconheiras pela sociedade. O fato é que a decisão do STF não autoriza o uso da maconha, mas sim, o direito da mobilização social sobre o tema. Aliás, como uma entidade vai proibir um protesto? Protestos não dependem de autorização judicial ou legal, pois, protestos exigem mudanças na legislação em vigor. Foi assim na Revolução Francesa. Foi assim na Guerra Civil norte-americana. Foi assim nas Diretas Já. A única coisa que o STF fez foi manter o protesto como pacífico, pois, certamente, se fosse proibido pelo órgão máximo da Justiça brasileira, haveria quebra-pau, tiros, mortos e feridos. - Quero um Ketel Clumsy sem ovo, por favor.
- Quero um Ketel Clumsy sem ovo, por favor. Enfim, enquanto no primeiro semestre tudo era festa e alegria, no segundo semestre o bicho pegava. Eu tinha que compensar o meu boletim colorado, recheado de notas vermelhas, precisando, muitas vezes, mais do que 100 no último bimestre para passar sem recuperação, algo absolutamente impossível... E na recuperação, eram duas ou três semanas atolado nos cadernos e livros de matemática, física e tudo o mais que tivesse números para tirar um 7,0 ou 8,0, que sempre vinham em cima do laço.
Enfim, enquanto no primeiro semestre tudo era festa e alegria, no segundo semestre o bicho pegava. Eu tinha que compensar o meu boletim colorado, recheado de notas vermelhas, precisando, muitas vezes, mais do que 100 no último bimestre para passar sem recuperação, algo absolutamente impossível... E na recuperação, eram duas ou três semanas atolado nos cadernos e livros de matemática, física e tudo o mais que tivesse números para tirar um 7,0 ou 8,0, que sempre vinham em cima do laço.
 Nesse momento, os todos poderosos do STF estão reunidos discutindo a legalidade da marcha a favor da maconha. Só o fato de estarem discutindo a legalidade de um protesto que começou de forma pacífica e só virou em zona por causa da ação da polícia, já é um absurdo e vai contra qualquer ideia de democracia. Vejam bem, críticos e conservadores leitorinhos: não estou levantando aqui o debate sobre a legalização da maconha, mas sim, do direito que as pessoas têm de protestar sobre esse e qualquer assunto. E, nesse sentido, a proibição de qualquer protesto de um grupo significativo de pessoas é, por si só, um absurdo.
Nesse momento, os todos poderosos do STF estão reunidos discutindo a legalidade da marcha a favor da maconha. Só o fato de estarem discutindo a legalidade de um protesto que começou de forma pacífica e só virou em zona por causa da ação da polícia, já é um absurdo e vai contra qualquer ideia de democracia. Vejam bem, críticos e conservadores leitorinhos: não estou levantando aqui o debate sobre a legalização da maconha, mas sim, do direito que as pessoas têm de protestar sobre esse e qualquer assunto. E, nesse sentido, a proibição de qualquer protesto de um grupo significativo de pessoas é, por si só, um absurdo.
 Enfim, como ia dizendo, a lista aumentou, pois nessa passeada que fiz pela Saraiva vi mais dois livros que não posso deixar de ler. Na verdade, vi mais do que dois, mas os que vou citar estão na lista dos que certamente irei adquirir em breve. E os dois tratam de um tema que nunca dei muita bola: música. O primeiro é o Mapas do Acaso, do Humberto Gessinger. Dei uma folhada, e vi que tem letras de músicas e uma diagramação bem “aberta”, ou seja, parece ser um livro que se lê em uma ou duas pegadas. Mas, como o Engenheiros do Havaii é a minha banda de infância, como já mencionei aqui outra vez, e como sigo curtindo as músicas do Gessinger, então, sinto-me na obrigação de ler esse livro.
Enfim, como ia dizendo, a lista aumentou, pois nessa passeada que fiz pela Saraiva vi mais dois livros que não posso deixar de ler. Na verdade, vi mais do que dois, mas os que vou citar estão na lista dos que certamente irei adquirir em breve. E os dois tratam de um tema que nunca dei muita bola: música. O primeiro é o Mapas do Acaso, do Humberto Gessinger. Dei uma folhada, e vi que tem letras de músicas e uma diagramação bem “aberta”, ou seja, parece ser um livro que se lê em uma ou duas pegadas. Mas, como o Engenheiros do Havaii é a minha banda de infância, como já mencionei aqui outra vez, e como sigo curtindo as músicas do Gessinger, então, sinto-me na obrigação de ler esse livro.  O segundo é o 50 anos a mil, do Lobão. Também curto as músicas do Lobão, curtia o programa dele de debate na MTV, e vi ele falar coisas muito fodas na Jornada Nacional de Literatura de Passo Fundo de 2005. E, enfim, o Lobão é o Lobão.
O segundo é o 50 anos a mil, do Lobão. Também curto as músicas do Lobão, curtia o programa dele de debate na MTV, e vi ele falar coisas muito fodas na Jornada Nacional de Literatura de Passo Fundo de 2005. E, enfim, o Lobão é o Lobão.  Como esqueci o livro do Allan Poe e o do Mario Quintana em Santo Ângelo, e não quis ficar parado até o final de semana, então, comecei a ler ontem o Reino e Poder, livro-reportagem do Gay Talese sobre a história do The New York Times. Li as primeiras 30 páginas, de um total de aproximadamente 600, e já saquei o fio da história: o jornal mais importante do mundo na verdade nada mais é do que uma empresa familiar bem sucedida, da mesma forma que todos os grandes jornais brasileiros. Aliás, era de se esperar. A única particularidade é que o jornal foi fundado em 1851 e só em 1896 Adolph Ochs compra o jornal, então deficitário, para transforma-lo na potência que é hoje. Ele multiplicou uma tiragem de 9 mil (mais ou menos a tiragem de um jornal de uma cidade como Santo Ângelo ou Ijuí) para 450 mil (a tiragem da Folha de São Paulo) em poucos anos. E, a maior preocupação do velho Ochs era garantir a dinastia familiar da empresa: queria que seus filhos, netos, bisnetos, tataranetos, e assim por diante, mantivessem a empresa, tendo como base a notícia como produto, mas uma notícia objetiva e (aparentemente) imparcial. O New York Times, desde que foi fundado, era (e ainda é) um dos poucos que paga bem por jornalistas que tenham textos enxutos e sem graça. O principal produto, nesse sentido, é a credibilidade.
Como esqueci o livro do Allan Poe e o do Mario Quintana em Santo Ângelo, e não quis ficar parado até o final de semana, então, comecei a ler ontem o Reino e Poder, livro-reportagem do Gay Talese sobre a história do The New York Times. Li as primeiras 30 páginas, de um total de aproximadamente 600, e já saquei o fio da história: o jornal mais importante do mundo na verdade nada mais é do que uma empresa familiar bem sucedida, da mesma forma que todos os grandes jornais brasileiros. Aliás, era de se esperar. A única particularidade é que o jornal foi fundado em 1851 e só em 1896 Adolph Ochs compra o jornal, então deficitário, para transforma-lo na potência que é hoje. Ele multiplicou uma tiragem de 9 mil (mais ou menos a tiragem de um jornal de uma cidade como Santo Ângelo ou Ijuí) para 450 mil (a tiragem da Folha de São Paulo) em poucos anos. E, a maior preocupação do velho Ochs era garantir a dinastia familiar da empresa: queria que seus filhos, netos, bisnetos, tataranetos, e assim por diante, mantivessem a empresa, tendo como base a notícia como produto, mas uma notícia objetiva e (aparentemente) imparcial. O New York Times, desde que foi fundado, era (e ainda é) um dos poucos que paga bem por jornalistas que tenham textos enxutos e sem graça. O principal produto, nesse sentido, é a credibilidade.  á reduziu a sua tiragem de cerca de 5 mil para os atuais 1.500. E aí voltamos a velha questão: esse é o futuro do jornalismo no mundo? O fim do jornalismo diário em papel? Será?
á reduziu a sua tiragem de cerca de 5 mil para os atuais 1.500. E aí voltamos a velha questão: esse é o futuro do jornalismo no mundo? O fim do jornalismo diário em papel? Será?
 Cada vez que minha reserva de livros está acabando, eu já começo a me programar para providenciar mais. Terminei de ler a Arte de Escrever, do Shop, e comecei a ler um do Edgar Allan Poe. Pelo primeiro conto, achei muito bom. É um texto de 10 páginas que, de início, você pensa que é um ensaio sobre perversidade escrito pelo próprio autor, mas, na medida em que você lê, você percebe que o autor fictício cometeu um assassinado e, numa crise de loucura, comparada pelo autor como a pessoa que está na beira de um precipício pensando se vai se atirar ou não, o inconsciente do personagem quer confessar o crime, que foi praticado com perfeição, sem deixar provas nem testemunhas, enquanto o consciente tenta tirar esse pensamento absurdo de sua mente. Numa crise de loucura, o autor/personagem sai correndo para ninguém ouvir a confissão, mas populares o alcançam e, ao ser agarrado por um sujeito qualquer, ele confessa tudo e termina preso. A linguagem de Poe é perfeita, não sobram nem faltam palavras na sua narração, que ainda é envolta de mistério e surpresa. É uma leitura que te prende, que te faz entrar no livro, que te pega pelo rabo, como diria o Picaso. Enfim, li até agora só esse conto e não vejo a hora de ler os outros.
Cada vez que minha reserva de livros está acabando, eu já começo a me programar para providenciar mais. Terminei de ler a Arte de Escrever, do Shop, e comecei a ler um do Edgar Allan Poe. Pelo primeiro conto, achei muito bom. É um texto de 10 páginas que, de início, você pensa que é um ensaio sobre perversidade escrito pelo próprio autor, mas, na medida em que você lê, você percebe que o autor fictício cometeu um assassinado e, numa crise de loucura, comparada pelo autor como a pessoa que está na beira de um precipício pensando se vai se atirar ou não, o inconsciente do personagem quer confessar o crime, que foi praticado com perfeição, sem deixar provas nem testemunhas, enquanto o consciente tenta tirar esse pensamento absurdo de sua mente. Numa crise de loucura, o autor/personagem sai correndo para ninguém ouvir a confissão, mas populares o alcançam e, ao ser agarrado por um sujeito qualquer, ele confessa tudo e termina preso. A linguagem de Poe é perfeita, não sobram nem faltam palavras na sua narração, que ainda é envolta de mistério e surpresa. É uma leitura que te prende, que te faz entrar no livro, que te pega pelo rabo, como diria o Picaso. Enfim, li até agora só esse conto e não vejo a hora de ler os outros. Enfim, mesmo com essa pequena reserva, também estou louco para ler Reino e Poder, do Gay Talese, que conta a história do New York Times, e que está xerocado e engavetado lá em casa. E já estou pensando nos próximos: Medo e Delírio em Las Vegas, do Hunter Thompson, História Regional da Infâmia, do Juremir Machado da Silva, e as dicas do meu primo Alemão: Elogio do Ócio, do Bertrand Russel, e Ocio Criativo, do Domenico de Masi. Ah, mas além disso, também vou ter que ler muita coisa sobre as disciplinas que estão logo ai, me esperando... Também quero saber logo quais são para devorar mais livros e revistas sobre os assuntos específicos e...
Enfim, mesmo com essa pequena reserva, também estou louco para ler Reino e Poder, do Gay Talese, que conta a história do New York Times, e que está xerocado e engavetado lá em casa. E já estou pensando nos próximos: Medo e Delírio em Las Vegas, do Hunter Thompson, História Regional da Infâmia, do Juremir Machado da Silva, e as dicas do meu primo Alemão: Elogio do Ócio, do Bertrand Russel, e Ocio Criativo, do Domenico de Masi. Ah, mas além disso, também vou ter que ler muita coisa sobre as disciplinas que estão logo ai, me esperando... Também quero saber logo quais são para devorar mais livros e revistas sobre os assuntos específicos e...
 O ano era 1999. Eu estava cursando o 3° ano do Ensino Médio e tinha 17 anos. Sei, crítico leitor, eu nasci em 1981, mas o ocorrido aconteceu em setembro, antes do meu aniversário. Na verdade, a história toda começou meses antes quando eu ouvi na Rádio Gaúcha que Brasil e Argentina fariam dois amistosos: o primeiro na Argentina e o segundo no Brasil. Aliás, mais que no Brasil: em Porto Alegre. De imediato, pus-me a incomodar meu pai para me autorizar a ir no jogo (e a financiar a viagem), que seria numa terça-feira, feriado de sete de setembro. Após muita insistência, o seu Nabuco (mais para que eu parasse de encher o saco do que por concordar com a idíea) acabou ligando para pedir para que o meu tio Dãe, que tem o bar na Venâncio Aires, comprasse o ingresso para a partida.
O ano era 1999. Eu estava cursando o 3° ano do Ensino Médio e tinha 17 anos. Sei, crítico leitor, eu nasci em 1981, mas o ocorrido aconteceu em setembro, antes do meu aniversário. Na verdade, a história toda começou meses antes quando eu ouvi na Rádio Gaúcha que Brasil e Argentina fariam dois amistosos: o primeiro na Argentina e o segundo no Brasil. Aliás, mais que no Brasil: em Porto Alegre. De imediato, pus-me a incomodar meu pai para me autorizar a ir no jogo (e a financiar a viagem), que seria numa terça-feira, feriado de sete de setembro. Após muita insistência, o seu Nabuco (mais para que eu parasse de encher o saco do que por concordar com a idíea) acabou ligando para pedir para que o meu tio Dãe, que tem o bar na Venâncio Aires, comprasse o ingresso para a partida.
 Depois dessa vez apoteótica, ainda pude ver outras duas vezes o Ronaldo jogar, ambas em 2009. A primeira foi na final da Copa do Brasil: 2 a 2 entre Corinthians e Inter no Beira-Rio e o Fenômeno ergueu o troféu de campeão. Já a segunda, também ficou para a história: Grêmio 3x0 Corinthians no dia em que o travesti que se envolveu em uma polêmica com o Ronaldo morreu. O Olímpico inteiro gritou “viúvo” para o Fenômeno, que não jogou absolutamente nada naquela tarde. Mas isso não importa. O que minhas retinas viram em 1999 valeram mais do que qualquer pisada na bola que Ronaldo possa ter dado fora dos gramados. E, agora, sinto-me na obrigação de repetir uma das frases feitas ditas pelo mala do Galvão: vai deixar saudades esse Ronaldo!
Depois dessa vez apoteótica, ainda pude ver outras duas vezes o Ronaldo jogar, ambas em 2009. A primeira foi na final da Copa do Brasil: 2 a 2 entre Corinthians e Inter no Beira-Rio e o Fenômeno ergueu o troféu de campeão. Já a segunda, também ficou para a história: Grêmio 3x0 Corinthians no dia em que o travesti que se envolveu em uma polêmica com o Ronaldo morreu. O Olímpico inteiro gritou “viúvo” para o Fenômeno, que não jogou absolutamente nada naquela tarde. Mas isso não importa. O que minhas retinas viram em 1999 valeram mais do que qualquer pisada na bola que Ronaldo possa ter dado fora dos gramados. E, agora, sinto-me na obrigação de repetir uma das frases feitas ditas pelo mala do Galvão: vai deixar saudades esse Ronaldo! Demorei para responder porque estava em viagem... Gente, como assim, quem é que est[a dando fotojornalismo??? Fui aluna do Paulinho em 1999. Naquela época, tirar foto era uma coisa absurdamente cara, por isso poucas vezes na minha vida tinha feito isso. Da para dizer que eu não tinha a menor ideia do que era tirar fotos. Paulinho me ensinou a pegar uma câmera, a usá-la, a pensar a foto, a pensar a situação e contexto da foto, a construção imagética da foto, me ensinou que para tirar foto é preciso olhar, observar, entender outras fotografias, estudar imagens, ter noção do contexto, saber o que está procurando, qual a relação entre a foto e o ponto de vista. Paulinho fez de mim uma amante por fotografias, como o fez com dezenas de amigos, colegas, conhecidos. E posso dizer com orgulho que o que ele me ensinou eu tentei passar adiante para muita gente. Se ele não é professor para ser professor de fotojornalismo, acho que está na hora de rever os conceitos sobre o que é fotojornalismo. Entretanto, até onde vagueiam meus domínios, o que se faz em termos de fotografia jornalística e o que se estuda e pensa sobre ela estão diretamente relacionados com o trabalho que o Paulinho desenvolveu e segue desenvolvendo. Ainda mais hoje que estas gerações vêm carregadas de imagens: mais do que nunca o professor de fotojornalismo precisa ter a serenidade acompanhada de ousadia, o conhecimento acompanhado de astúcia na ação profissional do Paulinho. Meu sincero desejo de que esta decisão equivocada seja revista, pelo bem da universidade que tenho em meu coração, por ser tão importante para a região Noroeste, por ter tanta influência na minha vida. E pelo bem do jornalismo e da fotografia.
Demorei para responder porque estava em viagem... Gente, como assim, quem é que est[a dando fotojornalismo??? Fui aluna do Paulinho em 1999. Naquela época, tirar foto era uma coisa absurdamente cara, por isso poucas vezes na minha vida tinha feito isso. Da para dizer que eu não tinha a menor ideia do que era tirar fotos. Paulinho me ensinou a pegar uma câmera, a usá-la, a pensar a foto, a pensar a situação e contexto da foto, a construção imagética da foto, me ensinou que para tirar foto é preciso olhar, observar, entender outras fotografias, estudar imagens, ter noção do contexto, saber o que está procurando, qual a relação entre a foto e o ponto de vista. Paulinho fez de mim uma amante por fotografias, como o fez com dezenas de amigos, colegas, conhecidos. E posso dizer com orgulho que o que ele me ensinou eu tentei passar adiante para muita gente. Se ele não é professor para ser professor de fotojornalismo, acho que está na hora de rever os conceitos sobre o que é fotojornalismo. Entretanto, até onde vagueiam meus domínios, o que se faz em termos de fotografia jornalística e o que se estuda e pensa sobre ela estão diretamente relacionados com o trabalho que o Paulinho desenvolveu e segue desenvolvendo. Ainda mais hoje que estas gerações vêm carregadas de imagens: mais do que nunca o professor de fotojornalismo precisa ter a serenidade acompanhada de ousadia, o conhecimento acompanhado de astúcia na ação profissional do Paulinho. Meu sincero desejo de que esta decisão equivocada seja revista, pelo bem da universidade que tenho em meu coração, por ser tão importante para a região Noroeste, por ter tanta influência na minha vida. E pelo bem do jornalismo e da fotografia. Creio que as leituras influenciam o nosso modo de escrever. Aliás, não creio, tenho certeza. Não fiz nenhum levantamento empírico sobre o tema, mas, teoricamente, é óbvio que para criarmos um estilo temos que adquiri-lo através de outras fontes. O estilo literário não é algo que baixa dos céus, como se acreditava séculos atrás. É algo que se constrói. Nesse sentido, não tenho como negar que meus últimos textos foram influenciados pelo filósofo alemão, Arthur Schopenhauer. Aliás, o velho e bom Schop não influenciou só a mim, influenciou outros carinhas como Friedrich Nietzsche. Claro que o Nietzsche é famoso e tal e coisa, mas enfim, tenho o direito de ter influência do velho Schop. Chop, para os íntimos.
Creio que as leituras influenciam o nosso modo de escrever. Aliás, não creio, tenho certeza. Não fiz nenhum levantamento empírico sobre o tema, mas, teoricamente, é óbvio que para criarmos um estilo temos que adquiri-lo através de outras fontes. O estilo literário não é algo que baixa dos céus, como se acreditava séculos atrás. É algo que se constrói. Nesse sentido, não tenho como negar que meus últimos textos foram influenciados pelo filósofo alemão, Arthur Schopenhauer. Aliás, o velho e bom Schop não influenciou só a mim, influenciou outros carinhas como Friedrich Nietzsche. Claro que o Nietzsche é famoso e tal e coisa, mas enfim, tenho o direito de ter influência do velho Schop. Chop, para os íntimos.  E eu? Eu passarinho (Viva o mestre Quintana!).
E eu? Eu passarinho (Viva o mestre Quintana!). Não sou formado em administração, nem gestão pública, entretanto, creio que, tanto em clubes de futebol, quanto em outras instituições que se dizem “públicas” ou “comunitárias” a gestão deve ser encarada de forma diferente da feita por empresas particulares. Um exemplo bem simples: em uma empresa particular, não é preciso se realizar processo seletivo, provas práticas, teóricas e de títulos, testes psicológicos, nem análise do currículo. Se eu sou dono de uma empresa e quero colocar o meu sobrinho trabalhar comigo e não outra pessoa mais qualificada e com mais currículo, eu contrato o meu sobrinho e ponto. Não infringindo a lei, está tudo ok. Já nas esferas públicas (Executivo e Legislativo nos âmbitos municipal, estadual e nacional) os diversos tipos de contratações estão previstos em lei (Cargos em Confiança, servidor efetivo, contrato emergencial, etc). Entretanto, entre as esferas públicas e as particulares há o meio termo, como as universidades “comunitárias” e os clubes de futebol.
Não sou formado em administração, nem gestão pública, entretanto, creio que, tanto em clubes de futebol, quanto em outras instituições que se dizem “públicas” ou “comunitárias” a gestão deve ser encarada de forma diferente da feita por empresas particulares. Um exemplo bem simples: em uma empresa particular, não é preciso se realizar processo seletivo, provas práticas, teóricas e de títulos, testes psicológicos, nem análise do currículo. Se eu sou dono de uma empresa e quero colocar o meu sobrinho trabalhar comigo e não outra pessoa mais qualificada e com mais currículo, eu contrato o meu sobrinho e ponto. Não infringindo a lei, está tudo ok. Já nas esferas públicas (Executivo e Legislativo nos âmbitos municipal, estadual e nacional) os diversos tipos de contratações estão previstos em lei (Cargos em Confiança, servidor efetivo, contrato emergencial, etc). Entretanto, entre as esferas públicas e as particulares há o meio termo, como as universidades “comunitárias” e os clubes de futebol.