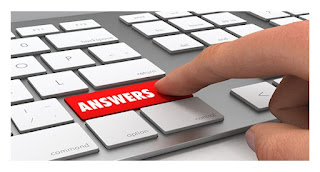O buda do subúrbio
O livro O Buda do Subúrbio, de Hanif Kureishi, inglês filho de pai paquistanês e mãe inglesa, diverte, perturba e deprime. Esse foi o segundo livro que li do autor. O primeiro foi Intimidade, que li durante o mestrado, uns 15 anos atrás, mas do qual não lembro absolutamente nada além de que era do Kureishi, que era bom e que tratava - como o nome diz - da intimidade nua e crua de um (ou mais?, não lembro) casal. Procurei por tudo quanto é canto uma resenha que, pensei eu, havia escrito sobre Intimidade e não encontrei. Por isso, desta vez vou resenhar brevemente O Buda do Subúrbio, para que, daqui a um, cinco, dez anos, quando eu tiver deletado de minha memória, eu possa consultar essas anotações.
Bueno, antes de mais nada, é preciso dizer que o livro é dividido em duas partes e, pelo que pesquisei na internet, trata-se de um romance inspirado biograficamente pelo autor. Contudo, enquanto Hanif é de descendência paquistanesa, o personagem principal, Karim, é filho de pai indiano e mãe inglesa. Na primeira parte da narrativa, que é em primeira pessoa na voz de Karim, o personagem está com 17 anos, sendo que a história se passa no início dos anos 1970 – o que coincide com a idade do autor. O início é, literalmente, um drama, com algumas tentativas de dar humor a uma vida desgraçada de um adolescente filho de indiano que sofre preconceito na escola e vê a sua vida em família se desmanchar dia a dia com o divórcio dos pais que, na medida em que as páginas passam, percebe-se que é inevitável. Aliás, o personagem vive com os pais e o irmão mais novo – um personagem absolutamente secundário e quase inexistente ao longo do romance.
Como quase todo romance, há histórias paralelas que se interligam. Porém, eu penso que a primeira parte, sim, trata muito do “buda do subúrbio”, que é como Karim se refere ao pai, nascido na Índia e que se muda para a Inglaterra após a vida adulta. Essa primeira parte aborda de forma muito interessante a questão da imigração na Inglaterra – pois tem o pai de Karim e o próprio personagem no centro narrativo. Claro que o estilo de Hanif torna tudo mais humano e engraçado, como quando ele fala: “Papai morava na Inglaterra desde 1950 – havia mais de vinte anos – e havia quinze residia nos subúrbios ao sul de Londres. Mesmo assim ainda andava pelo bairro como um indiano recém-desembarcado do navio, fazendo perguntas do tipo ‘Dover fica em Kent?’” (p.11). Assim, mesmo sem ter nascido e sequer pisado na Índia, Karim acaba levando uma vida como se ele mesmo fosse imigrante. Já a mãe, ele descreve assim: “Era uma mulher rechonchuda, antiatlética, de rosto claro, redondo e meigos olhos castanhos” (p.8).
As famílias do casal também entram na história. Um dos principais é Anwar, um indiano amigo de infância do pai de Karim, que é tratado por tio. Ele é meio que a caricatura de um imigrante que oscila entre a ortodoxia muçulmana indiana e a adaptação à cultura ocidental, sendo dono de uma lojinha no subúrbio de Londres. Ele é casado com Jeeta, uma princesa na Índia, mas que na Inglaterra é uma pobre mulher do tio do armazém. E Jamila, filha do casal, é ignorada pelo pai enquanto se cria devorando os conteúdos alternativos da literatura e da música inglesas. Bom, esses personagens seguem firmes praticamente até o final da obra e também ilustram os dilemas da imigração em uma sociedade preconceituosa e branca da Inglaterra.
A partir de então, o pai de Karim fica completamente envolvido com Eva e começa a pensar em se separar – e Karim acompanha todo o drama. Acontece aquela cena clássica das famílias que estão em desintegração: cada um numa peça da sala, sem se falar. Para não ficar naquele ambiente pesado, Karim gosta de sair pela cidade, visitar os tios Anwar e Jeeta – ele conta que cresceu fazendo sexo com Jamila, mas sem que nenhum dos dois se apaixonasse (apenas para prática). Há outros personagens, como tia Jean e tio Ted (acho que é Ted), que são do lado da mãe de Karim, mas, se falar deles, vou me alongar demais.
Resumindo, a primeira parte do livro foca principalmente nesses dramas: a separação dos pais de Karim, seu amor platônico por Charlie, ao mesmo tempo em que, se o pai dele casar com a mãe do colega, eles se tornariam “irmãos”; a vida desgraçada de Karim em sociedade – abandonando a escola – e, não falei ainda, o fato de tio Anwar arrumar um marido indiano para Jamila. Ela, obviamente, se opõe, mas ele faz greve de fome e, diante da gravidade da situação, na última hora ela aceita o casamento. Acontece que o tal noivo é a figura mais cômica do romance: um indiano de posses, mas desastrado e preguiçoso. Aliás, eu não diria desastrado – provavelmente, pela descrição que Hanif faz dele, ele poderia ser descrito como portador de algum grau de autismo, mas em uma época em que não se falava nisso. Assim, a primeira parte termina com esses dramas – começa bem dramática e deprimente, mas aos poucos vai ganhando um pouco de graça.
Já a segunda parte, quando comecei a ler, me decepcionei um pouco, pois trata do momento em que Karim se torna ator de teatro e, assim, os dramas da família dele passam a ser substituídos pelos dramas dos colegas e do chefe. Contudo, depois que você se acostuma com os novos dramas, o negócio começa a ficar bom e, de novo, começa a ganhar graça – até porque o drama cômico da relação de Jamila com seu marido encomendado ganha contornos hilários com o andar da narrativa, principalmente a partir do dia em que ele flagra Karim e Jamila deitados nus na cama. Inclusive, Jamila nunca faz sexo com o marido, enquanto ele implora pela mínima atenção. Mas não tenho como contar tudo isso em poucas linhas, então, caso alguém leia esse texto, a dica é ler o romance completo.
Já para o eu do futuro, que vou ter esquecido a narrativa, além desse texto capenga, eu sublinhei várias passagens. Mas acho que o principal é isso que escrevi, apenas lembrando que Charlie também ganha protagonismo, mas a paixão entre eles se apaga e eles se tornam amigos – ou irmãos – mesmo, com Charlie se tornando um astro do rock e indo morar em Nova York, enquanto Karim vai evoluindo na carreira de ator de teatro até – ao final – chegar à televisão. Não vou fazer nenhum comentário que flerte com o academicismo, do tipo “está falando da sociedade inglesa, imigrantes, etc.”, porque isso é chover no molhado. O livro é bom por relatar os dilemas de seres humanos que se movimentam pelo globo e, acredito, foi o livro que mais me fez viajar até a cidade de Londres – pois o urbanismo inglês e suas relações nos subúrbios realmente te transportam para lá.
Obviamente, teria muito mais a escrever sobre esse excelente livro, que mescla drama, humor, crueza, cinismo, palavrões, sexo e comicidade com um monte de outras coisas, mas cansei. Hasta!